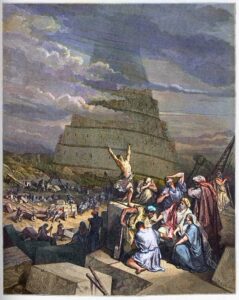
gravura de “Th · Gustave Dore Private Collection / Bridgeman Images
Um meu ex-professor professor de literatura, A. Tito Filho (1924-1992) no velho Liceu Piauiense (no meu tempo se chamava Colégio Estadual “Zacarias Góis), nome respeitado e admirado do magistério, do jornalismo, da boêmia literária, uma vez me levando, em sua Rural Willlis, para casa de volta de um encontro, em lugar aprazível, se não me engano, num sítio de um amigo comum de intelectuais e professores, incluindo meu pai, me dissera: ”Leia primeiro os autores, depois complemente com a teoria. Só terá a lucrar com isso.”
Essa recomendação, dirigida sobretudo a jovens, enfatizava a grande importância da leitura intensiva e extensiva. Tal declaração do meu professor aproveitei para citar no meu livro para estudantes de Letras, Breve introdução ao curso de Letras: uma orientação (Litteris Editora; Quártica, Rio de Janeiro, 2009, 120 p). A sugestão inteligente de A. Tito Filho é ainda atualíssima e assim será sempre. Contudo, deve ser entendida, a meu ver, nos seguintes termos: a leitura deve ser intensa e extensa, conforme assinalei acima, mas acompanhada simultaneamente das leituras da teoria literária, com a leitura dos críticos e ensaístas. Ela se põe, assim, num tripé, ou seja, autor + leitor + teoria. Naturalmente, me estou referindo a alunos que se destinem aos estudos literários, conquanto reconheça que leitores há que gostam também de ler sobre o que teóricos e críticos pensam acerca de ficcionistas, poetas, dramaturgos, cineastas, artistas em geral.
O que não deve acontecer é a hipertrofia, o excesso de leituras teóricas que dizem mais respeito a acadêmicos das áreas das ciências humanas ou até científicas, pois conheço pessoas que, sendo engenheiros, ou mesmo acadêmicos de engenharia ou de outras áreas tecnocientíficas, valorizam a literatura, a linguística etc. Tanto é verdade que, no passado e no presente, escritores existem que se graduaram em áreas não correlatas às humanidades.
O que eu chamaria de leitura da perda da inocência não deve ser entendido como aquela destinada ao divertimento, às horas ociosas do leitor comum ou do leitor de “bestsellers”. Essa leitura, assim especificada, seria a leitura dos estudantes de Letras, dos professores de literatura, dos teóricos e ensaístas, do espaço universitário.
Ao ser introduzido às noções de teoria literária que, em geral, começam nas últimas séries do ensino fundamental e se complementam, em nível intermediário, no ensino médio, o estudante das disciplinas língua portuguesa e literatura luso-brasileira, ao lerem ficção e poesia já vão se familiarizando com a terminologia ou os elementos de teoria literária que lhe propiciarão entender a literatura como um refinamento da linguagem, chamada língua literária, diferente da linguagem da comunicação ou das referencialidades ligadas à realidade empírica.
Se, por acaso, fosse um leitor que, por conta própria, gostasse de ler ficção e/ou poesia, logo se depararia com aquela leitura não contaminada pela perda da inocência, o que seria puramente um leitor que, de uma forma ou de outra, também fruiria o prazer de ler uma história e com ela se emocionar. Sentiria o prazer estético ainda que num nível compatível com a sua instrução.
Ao contrário, o estudante, instrumentalizado com as noções de teoria literária e notadamente os estudantes que ingressam nos cursos de Letras, aos poucos irão se desapegando da leitura ingênua, destituída de interferências crescentes metaficcionais. Iniciarão uma nova etapa de aquisição de um arsenal teórico tanto no campo da teoria literária quanto no da filologia e da linguística.
Ou seja, essa absorção fará parte de seu repertório de conhecimentos mais profundos do fenômeno literário, gramatical, filológico e linguístico, somados ao conhecimento de outras áreas humanas, como a filosofia, a psicologia, a sociologia, a história, a política, a economia. Se já graduado em Letras, o estudante passará a conviver profissionalmente com dois processos de intelectualização contínua dos quais não mais se apartará. Se pender para a linguística, a gramática, a filologia, a análise do discurso, a linguística textual, todo esse “background” específico estará intimamente relacionado à sua vida mental, seja pela dimensão da metaliteratura, seja pela dimensão da metalinguística ou, em muitos caso, por ambas.
Por fim, a sua formação, no campo das ciências humanas, ainda será invadida por outras disciplinas ou saberes dada a transversalidade em que se encontram os estudos contemporâneos, com as fronteiras do conhecimento intercambiáveis. O seu espectro de conhecimentos convocados aos novos comportamentos exigidos pelos estudos do estudante e do profissional acadêmico demandará outros campos epistemológicos nas disciplinas da psicanálise, da música, das artes em geral, da antropologia e mesmo das ciências estatísticas, computacionais. “Mutatis mutandi, seria, a grosso modo, um “neoenciclopedismo” da modernidade célere e em bases transnacionais.
Ora, todas essas transformações operadas no seio das literatura e de terrenos do conhecimento correlatos ou não correlatos, por sua vez, tornaram muito mais complexos e mais exigentes para os novos tempos atravessados pela era digital e pelo mundo virtual.
Os antigos compartimentos estanques dos saberes já estão sepultados e com eles sofreram inflexão algumas áreas humanas, como, por exemplo, a filologia, os estudos clássicos, com repercussão nos grandes centros europeus e nas formulações de currículos do ensino médio e superior.
Os docentes dessas disciplinas, e bem assim os estudantes de Letras, não desejando perder seu espaço e prestígio cultural nem tampouco a sociedade culta, se manifestam contra as medidas das autoridades educacionais de exclusão do latim e, se não laboro em erro, também do grego, como, não faz muito tempo, aconteceu na França.
O Brasil sofreu dessa mesma espécie de aversão das autoridades educacionais pela abolição da língua latina do ensino fundamental e médio que se efetivou no início dos anos sessenta do século passado, com a exclusão do latim do curso ginasial. Eu mesmo, tendo concluído o curso científico, fiz um inflamado artigo criticando a exclusão do latim. Felizmente, ainda temos, em algumas escolas e cursos de direito pelo menos, um ou dois semestres, do ensino do latim.
Por outro lado, apesar dos novos tempos globalizados, no tocante à implantação da interdisciplinaridade professores mais conservadores de universidades e do curso de Letras, sub-áreas de língua portuguesa e filologia, ainda veem com certa má vontade (acredito que nem todos) que, em congressos de língua e filologia, se apresentem trabalhos abordando temas especificamente literários, ou seja, professores que ainda insistem na clivagem entre estudos literários e estudos filológicos e linguístico, o que é desconhecer os avanços dos estudos interdisciplinares.
Felizmente, creio que esses tabus com o tempo serão superados. Um deles me chegou a fazer um comentário, no mínimo ingênuo, ao me dizer que os professores de literatura “viajam muito” e se perdem em especulações interpretativas intermináveis.
Retomando a questão da perda da inocência no que tange à leitura da imaginação (romance, novela, conto, poesia, drama, teatro escrito) pelo menos de uma boa notícia já dispomos. Foi exatamente de um ex-estruturalista famoso, principalmente no auge do estruturalismo, tempo de minha graduação em Letras, Tzvetan Todorov, que ouvimos uma forma de “mea culpa” ao afirmar que o excesso de hermetismo teórico afastou os leitores do “prazer” da leitura.
E acrescento eu, afastou, além de alguns estudantes de Letras, até pessoas estudiosas no campo da literatura, provocando nelas ojeriza pelo estruturalismo, pelas análises alicerçadas nessa corrente do pensamento crítico. O estruturalismo foi atacado por alguns intelectuais brasileiros, sendo um dos mais ferrenhos o então jovem crítico José Guilherme Merquior (1940-).
O aparato técnico e científico do estruturalismo seguramente teria dias contados. As cansativas leituras teóricas dessa corrente, com seus famosos “esquemas fonogramáticos” (de árvores) ou os esquemas de “parentetização etiquetada,” (Eduardo Lopes, Fundamentos da linguística contemporânea, Cultrix, 1974) tomados aos avanços na época da linguística. Sucede que, mesmo aos especialistas de hoje aquelas cansativas visualizações que lembravam as decomposições dos elementos da química ou funções algébricas, quadros esquemáticos, estatísticos os especialistas, o estruturalismo dos anos 1970 já não diz muita coisa.
Suponho tenha sido ele, o estruturalismo aproveitado da antropologia de Lévi Strauss (1908-2009) e adaptado aos estudos literários, um dos principais responsáveis pelo perda do antigo prazer de ler e de escrever sobre literatura.
Críticos literários, com o tempo, encontrariam novas correntes do pensamento crítico, da Nova Crítica defendida por Afrânio Coutinho (1911-2000) para formas mais abertas e não ortodoxas de estudar e analisar o fenômeno literário, não necessariamente subordinadas à linguística e ao vezo de, em vão, submeter a literatura a um formalismo cintificizante e tecnicista.
Outras vias de abordagens de análise surgiriam, outras mais aproveitariam o que de positivo encontraram nas diversas correntes críticas, inclusive no estruturalismo, mas dando maior peso de análise aos aspectos culturais, sociais e estilísticos da obra literária.
Quer dizer, approaches que dariam conta da análise literária e dos estudos críticos tendo em consideração que a obra literária, sendo criação humana, deve proporcionar prazer, emoção, sentimento, humanidade e elaboração estética fazendo com que o leitor, o crítico e o teórico sinalizem para a leitura como vida, gosto de ler, encantamento, enfim, um diálogo constante entre o leitor e o criador no sentido de melhor compreender os homens e tudo que há à sua volta.
Só pela citação de um pequeno trecho do livro A literatura em perigo (Rio de Janeiro: DIFFEL,2009, p..25), de Todorov, de quem assisti a uma conferência nos anos 1970, na Faculdade de Letras da UFRJ, pode o leitor imaginar uma mudança de atitude diante da obra literária: “Na escola não aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os críticos.”
Por isso, vejo com certo fundamento a minha referência, no domínio da literatura de ficção, aquilo que chamei a perda da inocência tão logo somos envolvidos intelectualmente com o arcabouço teórico que, em si, é basilar, mas que, não posso negar, nos tira para sempre a leitura pela leitura. Ou seja, o encontro com um mundo de vidas e de sentimentos, segundo assinalei acima, um pedaço da vida encontrada na materialidade da palavra escrita. O que posso fazer se a pureza da leitura se acaba na vida adulta de um estudioso?
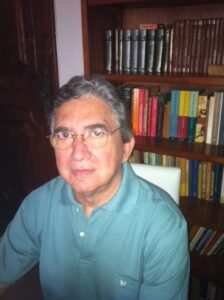
Francisco da Cunha e Silva Filho é Pós-Doutor em Literatura Comparada (UFRJ) e Doutor em Letras Vernáculas (Literatura Brasileira, UFRJ) e possui uma vasta experiência na literatura e na educação. Ensaísta, crítico literário, cronista, tradutor. Colaborador de jornais e revistas. Autor, dentre outros, de Da Costa e Silva: uma leitura da saudade (1996); Breve introdução ao curso de Letras: uma orientação (2009); As ideias no tempo(2010) e Apenas memórias (2016). Cunha é um intelectual multifacetado, com uma vasta trajetória acadêmica e profissional, que o credencia como uma voz importante no cenário cultural brasileiro.

Respostas de 2
O texto do Cunha e a conversa com amigos também da literatura me fazem pensar na minha forma de leitura que, obviamente, só serve para mim. Tenho hiatos que podem durar meses de jejum. De repente, retorno a ler de forma quase obsessiva, lembrando aquele dito: ‘ Quando não é 8 é 80’. Talvez eu seja um bipolar – leitor ou um leitor – bipolar, pois sinto que, em atividade, construo ideias, discursos, enfim, articulações dentro de uma racionalidade viável à busca de sentidos. Nesta segunda fase, fico a ler literatura e filosofia às vezes ao mesmo tempo. Até onde meu astigmatismo permite, me detenho nos contemporâneos da prosa e da poesia (quase não leio peças teatrais), mas sempre sem firmar um hábito. O que leio, procuro ler bem. Nesta rotatória, ter hábito para mim é ler e escrever forçado. Falando em escrever, mais leio do que escrevo (infinitamente assim). Não tenho mesmo um roteiro e, quantitativamente, leio muito pouco e avulso. Para dizer mais, não desconsidero, de forma alguma, a leitura não apenas dos ebooks, mas também das redes sociais. Até porque quase todos meus contatos de Facebook e de Instagram são do aprisco literário. Logo, encontro quase sempre a leitura de poesias e da prosa de ficção. Neste caminho, difícil é saber de referências bibliográficas. Agora mesmo estou lendo três poetas ao mesmo tempo. Sim, já li misturando Murilo Mendes com Jorge de Lima, Augusto dos Anjos com Fernando Pessoa, Hilda Hits com Clarice Lispector, Sartre com Dostoiévski. Até que venha o outro mistério, o de deixar de ler por algum tempo. Mas, na verdade, nunca fico inteiramente no vácuo, ocioso durante esta outra face minha. Durante este outro de mim, leio auforismos de Nietzsche, máximas de Heidgeer, poemas selecionados de Adélia Prado e Nauro Machado e algum etcetera. É uma fase mais ainda avulsa. Muito diferente e além de mim, Cunha é um leitor voraz e sistematizado; segue com sucesso vida acadêmica, acompanha todo o processo, os movimentos literários desde a literatura medieval até hoje, desde os sumérios, os pré – socrático até hoje. Este repertório, esta erudição lhes fizeram e fazem um leitor bastante incomum. Eis então um crítico literário de peso nacional, um ficcionista de um memorialismo do berço ao homem maduro nos procedimentos de leitura, escrita e vivências. O que segue aqui é uma simplificada e honesta exposição minha. E só volto para corrigir os erros de digitação (vale aqui o tangenciamento). Que todos percorram seu caminho ao mergulhar nos livros e ao emergir sentindo que a vida é infinita na palavra escrita. Afinal, ‘Literatura é para ser lida’ com as lentes de que dispomos. Que sejam muitas, variadas lentes – bipolares ou não.
Eis a confissão sincera de um escritor ainda bem moço, mas que tem talento de sobra . Basta ter editado seu pouco extenso livro de contos, “Paradeiro,” para se aquilatar o valor estético dessa obra. Geovane veio para ficar não só nos quadros de ficcionistas piauienses como também para ter um lugar entre os bons novos ficcionistas brasileiros. Esse livro é, para mim, um obra de inegável qualidade. Geovane é originalíssimo, é um autor arguto que sabe ler e sabe ser ficcionista. Seu estilo é moderno, nebuloso, feérico, repassado de ambiguidades ( traço de destaque da narrativa contemporânea), narrativa construída de imagismo sintático, por isso mesmo tangenciando a um só tempo o poético e o meta-poético ( ele mesmo é também poeta). Geovane nada tem de ranços epigônico, comum em alguns autores nordestinos daquele tipo de alguns principais autores nordestinos que escrevem ficção à moda antiga e que repetem ainda um tipo de linguagem do romance de 30, com José Américo de Almeida, Jorge Amado, Raquel de Queirós José Lins do Rego. Em outras palavras, Geovane não me parece um autor que vai procurar na “hinterland” seus temas preferidos. Malgrado seu cenário é de uma capital , Teresina, já trepidante e com problemas de toda ordem. O seu mundo narrativo é o da sondagem de personagens complexos e enigmáticos e contraditórios e imprevisíveis (o que E. M,Forster, em “Aspectos do romance”), denominou de “personagens “redondos”) e em luta existencial, convivendo com seus fantasmas, nos embates contra seus demônios, é produto da vida urbana, do homem às voltas com seus fantasmas, com um personagem central com esses traços psicológicos, no caso do livro contos de estreia, já mencionado. Monteiro é escritor dos tempos modernos eletrizantes, da pressa, da rapidez, do efêmero e das relações interpessoais em ruínas. marcadas pela minimização das subjetividades dos tempos idílicos de um passado morto..