
A sala de espera do exame era um quadrado de dois por dois metros. Tinha duas portas, uma de entrada e outra de saída, luz forte e paredes despidas. Enquanto lá estive, ansiava por uma folha de papel, uma caneta e um período de espera mais longo do que o habitual. Não tinha, porém, o material, nem sequer podia contar com muito tempo.
As ecografias são exames aparentemente simples. Ainda assim, ouvi do outro lado um diálogo entre o médico e o paciente. Parecia haver ansiedade. Tratava-se de um nódulo ou coisa parecida. Mas eu estava demasiado extasiado pela beleza esquelética da sala para prestar a atenção necessária à compreensão da conversa.
Encostei-me à parede. Senti uma paz imensa naquela cela prisional, suficientemente pequena em espaço, demasiado curta em tempo. Lembrei-me da confissão de um amigo quando me disse que os melhores dias que passara tinham sido num recobro, numa cama de hospital com vista para o estuário. Se, quando ele me disse aquilo, pude entendê-lo, agora sentia no corpo as mesmas sensações, o mesmo alívio da realidade.
Fiz-me acreditar que ficaria naquela cela várias semanas. “Iria entediar-me”, pensei. Logo se via. Pareceu-me que teria de fazer flexões e correr à volta daquele quadrado, como vi fazer os prisioneiros nas celas dos filmes americanos.
Coloquei-me debaixo da luz, difundida por um candeeiro redondo e côncavo, único elemento — para além do cabide preso à porta — que acrescentava algo à lisura das paredes. Imaginei o candeeiro como um disco voador que me vinha buscar. A luz alucinava-me, como se eu fosse uma varejeira aflita que, em vez de procurar uma saída, tentasse ficar por ali. Assim mesmo: um insecto pequeno demais para ser encontrado pelo enfermeiro; translúcido, invisível, para que ninguém me encontrasse.
A vontade de escrever ali um poema crescia-me então indomável no peito.
Tive a ilusão de estar dentro de um daqueles poemas secos da Luísa Neto Jorge, versos sumários de que tanto gostara em tempos idos, quando, para mim, a poesia era um exercício de poda, de redução ao essencial, de contenção verbal, de combate ao desperdício — como um velho avô forreta ou um escultor demasiado perfeccionista, aproveitando um pequeno bloco de pedra para tentar esculpir a sua obra magna.
O enfermeiro chamou-me baixinho. Abri a segunda porta com um misto de alívio — porque saía de um estado de inexistência absoluta — e de saudade pressentida: a cidade, a realidade, aquilo que os outros esperam de mim dificilmente poderiam oferecer-me uma paz espiritual como aquela.
Amadora, 14 de fevereiro de 2026
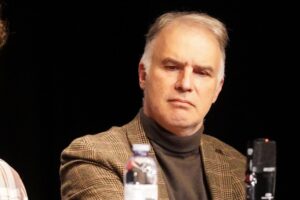
Luís Palma Gomes nasceu em Lisboa, em 1967, e cresceu na periferia, em Queluz — entre linhas de comboio, pequenos quintais e o rumor longínquo da cidade. Engenheiro informático de formação, é hoje professor de Informática no ensino secundário. A escrita, porém, sempre lhe correu em paralelo, como um rio subterrâneo. Começou a publicar nos anos 90 no suplemento DN Jovem, onde os primeiros poemas encontraram lugar. Poeta do intervalo e da fricção, escreve a partir do quotidiano, da contemplação das pequenas coisas, dos gestos que passam despercebidos. Publicou Fronteira em 2022, e O Cálculo das Improbabilidades em 2025, onde aprofunda uma linguagem feita de tensão entre o visível e o indizível, entre a matéria e o símbolo, entre a casa e o mundo. É também autor de peças de teatro, como A Moura e O Último Castro Antes de Roma, onde a memória histórica se cruza com as inquietações humanas. Escreve e ensina jovens, porque precisa de ver crescer alguma coisa — nem que seja uma imagem, uma ideia, uma manhã, uma vontade. Não tem medo da água fria do mar.
